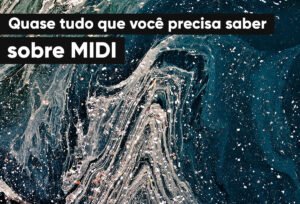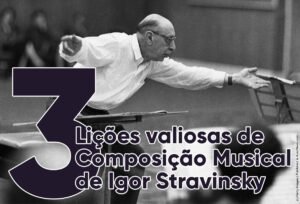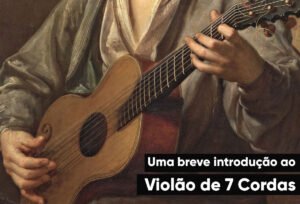Pica-Pau, Tom & Jerry, Os Jetsons, Dragon Ball Z, Pokémon ou Mickey Mouse fazem parte da memória afetiva de milhares de pessoas que cresceram assistindo a esses e outros desenhos animados nos programas diários da televisão brasileira.
Entretanto, a maior parte desses conteúdos foi importada — primeiro dos grandes estúdios norte-americanos (Disney, Warner Bros., Hanna-Barbera), e depois, numa segunda grande onda, do Japão, com seus animes cheios de ação, tramas densas e visual marcante.
Já na década de 1970, teóricos como Ariel Dorfman e Armand Mattelart, em obras como Para Ler o Pato Donald, alertavam para o caráter ideológico dessa avalanche animada, identificando nela uma ferramenta de imperialismo cultural.
Com as trapalhadas do Pato Donald ou as perseguições do Coyote, desembarcavam nas casas os valores do modo de vida americano: o consumismo (quantos brinquedos não desejamos após ver um desenho?), o culto ao sucesso individual, a família nuclear idealizada (pai, mãe, filhos e cachorro), além de padrões de beleza e visões de mundo desconectadas da realidade brasileira.
No Brasil, gerações cresceram internalizando, muitas vezes de forma inconsciente, esses referenciais. O “sonho americano” parecia mais glamouroso que a luta cotidiana. Heróis e heroínas obedeciam a um padrão físico distante da diversidade étnica do país. Humor, conflitos e soluções apresentados nos desenhos vinham de um contexto cultural outro, criando um imaginário infantil globalizado, onde um quintal qualquer podia, na mente da criança, se confundir com os subúrbios dos EUA.
Mas será que fomos apenas espectadores passivos nesse processo?
Acredito que não. As crianças e os jovens brasileiros também são agentes ativos, negociadores de significados. Nem tudo o que vinha da tela era absorvido de forma literal.
Pensando na minha própria infância, percebo como o famoso “jeitinho brasileiro” também se aplicava ao consumo cultural.
A gente pegava aquela estrutura toda pronta que vinha de fora, mas colocava o nosso jeito em cima: nosso jeito de falar, de brincar, de imaginar. As referências vinham de longe, mas o modo como a gente usava tudo aquilo era bem daqui, do nosso dia a dia.
Esse movimento híbrido é característico de contextos como o nosso, onde a cultura de massa internacional exerce enorme influência.
A hegemonia da animação estrangeira deixou marcas, inclusive preocupantes, como a naturalização de estereótipos e valores alheios. Por outro lado, revelou a impressionante capacidade de adaptação e recriação da cultura brasileira: transformamos o importado em algo que, de alguma forma, também passou a nos pertencer.
Foi uma invasão cultural, sim — mas uma invasão que encontrou solo fértil para a ressignificação.
A Animação Nacional: Caminhos e Conquistas
Por décadas, o Brasil foi sobretudo um território consumidor, iluminado apenas por alguns faróis solitários.
A história da animação nacional é, em grande parte, a narrativa de uma luta contra gigantes: falta de recursos, ausência de políticas públicas consistentes, concorrência desleal com produções estrangeiras subsidiadas por economias de escala globais.
Os principais obstáculos enfrentados foram (e ainda são, em parte):
- Financiamento: A animação tem custo elevado e retorno incerto. Investidores privados sempre foram reticentes. O apoio estatal, via leis de incentivo como a Lei do Audiovisual (nº 8.685/93), foi essencial, mas frequentemente instável e burocrático.
- Concorrência desleal: Canais de TV, pressionados por orçamentos reduzidos, optavam por desenhos importados a preços irrisórios, sufocando o espaço para produções locais.
- Distribuição limitada: Mesmo com bons produtos, chegar ao público era (e continua sendo) um desafio, com poucas janelas de exibição disponíveis.
- Infraestrutura precária: A ausência de um ecossistema profissional estruturado atrasou o amadurecimento do setor.
Apesar disso, as histórias em quadrinhos e os desenhos animados desempenharam um papel importante na formação cultural de gerações.
Com a Turma da Mônica, por exemplo, as crianças brasileiras passaram a se reconhecer na tela. O cenário era um subúrbio familiar, a linguagem carregada de gírias, os conflitos espelhavam brincadeiras reais. Personagens como Cebolinha, Magali e Cascão eram retratos sociais acessíveis.
O uso do folclore nacional (Saci, Iara, Mula sem Cabeça) contribuiu para reforçar o pertencimento cultural e valorizar referências brasileiras frente ao “tsunami” estrangeiro. Contudo, ainda assim, persistem críticas:
- Estereótipos de gênero: Mônica é a “menina brava”, Magali é “focada em comida”; faltam protagonismos femininos mais complexos.
- Estereótipos regionais e raciais: O caipira e o nordestino são, muitas vezes, caricatos. Personagens negros, como Jeremias, surgiram como coadjuvantes com traços estereotipados. A inclusão da personagem Milena representou mudanças, mas a diversidade ainda é limitada.
Nas últimas décadas, no entanto, assistimos a uma transformação significativa, impulsionada por políticas públicas mais consistentes, atuação da Ancine, editais voltados à animação e incentivo à produção independente.
Canais como a TV Rá-Tim-Bum, TV Cultura e TV Brasil criaram espaços para conteúdos nacionais e educativos. Mais recentemente, a explosão das plataformas de streaming gerou demanda por produções localizadas e temáticas diversas.
Um exemplo de destaque é Irmão do Jorel (Copa Studio – Cartoon Network/Globoplay), aclamado por sua estética inspirada nos anos 80/90, humor surreal e crítica social embutida no cotidiano de uma família disfuncional da classe média. A série é um “reflexo das identidades” brasileiras: caótica, sensível, afetiva e politizada.
Identidade e Representatividade nas Telas
Desenhos animados operam como agentes de socialização, ao lado da família e da escola. Transmitem valores (cooperação, competição, justiça, consumismo), normas sociais e modelos de comportamento. Crianças testam e internalizam esses modelos no campo simbólico do brincar.
Quando apresentam elementos reconhecíveis da cultura brasileira (linguagem, paisagens, hábitos, humor, músicas), os desenhos fortalecem o sentimento de pertencimento e oferecem ancoragens identitárias: “isso é como eu” ou “isso é o meu mundo”.
A presença de personagens diversos — em termos de cor, gênero, região, condição social — é fundamental. A ausência desses personagens pode gerar sentimentos de inadequação ou exclusão. Uma animação nacional inclusiva e crítica ajuda a formar sujeitos mais conscientes de si e do outro.
Além disso, as narrativas animadas favorecem o desenvolvimento da linguagem, da imaginação, da empatia e da percepção emocional — especialmente quando investem em tramas bem construídas e múltiplas camadas de significado.
Nesse cenário, a educação midiática torna-se indispensável. É preciso ensinar crianças (e adultos) a “ler” os desenhos, questionar estereótipos, entender interesses comerciais, reconhecer valores implícitos.
A animação, portanto, pode ser uma poderosa ferramenta educacional, abordando temas como ciência, saúde, história e cidadania de forma acessível e envolvente. O ambiente digital, embora fragmente a audiência, também democratiza o acesso e cria novas oportunidades para produções independentes.
Desafios e Perspectivas
Hoje, o setor de animação no Brasil vive um momento de vigor criativo, por meio de políticas públicas, editais e a demanda de plataformas de streaming, observa-se maior diversidade temática, estilística e de representação.
Mas os desafios persistem:
- Sustentabilidade financeira além dos editais
- Ampliar a distribuição e o alcance dos conteúdos nacionais
- Concorrer com o mercado global
Os desenhos animados no Brasil operam, portanto, num campo de tensão constante entre a homogeneização imposta pela indústria cultural global e a pulsão criativa identitária local. Se no passado foram vetores de valores estrangeiros, hoje caminham para se tornar ferramentas de construção de identidades plurais, enraizadas na realidade brasileira.
A consolidação de uma animação nacional autoral, diversa e crítica é um passo decisivo para oferecer novas formas de pertencimento e subjetivação às infâncias brasileiras. Mais que entretenimento, desenhos animados são territórios simbólicos onde se negociam sentidos, se constroem imaginários e se formam os sujeitos do futuro.